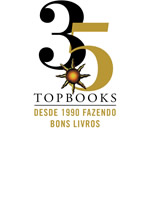A QUARTA CRUZ
Adriano Espínola
Em meio a tantos equívocos e distorções
que assolam a poesia brasileira contemporânea - atacada pelo
vírus da prosa, pelas firulas, invencionices, pedantismos,
passadismos, etc., etc., com as devidas e honrosas exceções
- A QUARTA CRUZ revela-se no mínimo aposta inquietante:
a reconquista do poema, mobilizado por aquilo que Heidegger chamaria
de projeto poético pensante.
Sim, o poeta é também um pensador.
Não propriamente um filósofo, mas um artista que pensa
com os sentidos, com a alma e com o corpo (“O que em mim sente
está pensando”, já advertia Fernando Pessoa).
E sobretudo sabe extrair o seu pensar emocionado da própria
linguagem. Retrabalhando-a, para significar mais. Daí porque
a palavra poética se lança em sentidos vários,
a fim de expressar o mundo objetivo e subjetivo, tanto quanto o
próprio fazer literário. Daí, também,
o fato de que a palavra para o poeta, pelo seu contorno sintático-afetivo,
não raro encantatório, torna-se irredutível
a qualquer outro discurso senão àquele que se instaura
no corpo do poema.
É o que podemos perceber neste livro singular.
Ao dar precedência à ideia sobre a imagem, o autor
empreende ampla reflexão sobre os grandes temas da poesia
ocidental - a dor existencial, o amor, a morte, os dias vividos,
a busca espiritual, as coisas em torno etc. -, sem abandono do vigor
conotativo das palavras. Tal empenho estético tem por alvo
o destino do homem no tempo (este “ser para a morte”,
como o mesmo Heidegger o define), com seus desejos e fraturas.
Se é verdade que o poeta, em livros anteriores,
fazia prevalecer a imagem, de modo até extremo, dando vazão
a metáforas absolutas e enigmáticas, desta vez o pensamento
se funde à imagem. Equilibram-se. E se movimentam a partir
de ritmos bem calibrados e múltiplos, que vão dos
versos livres às formas fixas. A visão de mundo madura
e algo melancólica do escritor junta-se à visão
(quase diria: audição) da linguagem, que se abre para
novas nuanças e domínios, onde tradição
e invenção, variedade formal e complexidade temática
se encontram e se reclamam mutuamente. Como em toda grande poesia.
O livro exige leitura e releitura incessantes,
para fazer emergir e vibrar os significados mais recônditos
do conjunto e de suas partes. A seção inicial denominada
“A nona hora” já nos dá uma chave do projeto
pensante do escritor. Segundo a tradição, foi essa
a hora em que Cristo teria morrido na cruz, no instante de maior
dor e abandono (“Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste?”).
O poema homônimo que a inicia traz uma forte reflexão
centrada na vida cotidiana, em que “algo resiste” e
“inunda esta casa/que então é meu silêncio”.
Simbolicamente trata-se do momento em que o eu
lírico se deixa padecer, ao se crucificar no espaço
da casa (“caixa de enganos”) e no tempo de agora. Resultado
da percepção aguda de que “algo falta”.
Deus será apenas “os dias vividos”. E o próprio
Cristo, no longo e belo poema dedicado a Ele, representa “a
parte (...) de um mistério/que nos condena à distância/de
uma quarta cruz”.
Ora, a quarta cruz não existiu no Gólgota.
Ela, todavia, existe como metáfora de uma ausência
irremovível dentro de nós. Seria o vazio, a falta
sobre a qual crucifixamos o nosso “corpo que, enfim, é
outro”. Porque somos o que não temos. Ou, como afirma
Weydson, “somos um silêncio cortado/por desejos, por
palavras,/pela eterna recordação”. Essa falta
perene, a nosso ver, não é outra senão a do
“amor, suor do futuro”.
O título do primeiro poema também
nos fornece outra pista interpretativa do livro, voltada para a
composição e organização das peças.
Trata-se da referência ao número nove. O volume compreende
quatro seções, cada qual com nove textos, totalizando,
assim, trinta e seis poemas. Qual o sentido do nove? Para os numerólogos,
representaria a manifestação divina nos três
planos da realidade: no mundo do espírito, no da alma e no
da matéria. Na Cabala, corresponderia a Yesod, o Fundamento,
a Base. Na mística cristã, à ascensão
da alma em nove degraus. E na arte, à inspiração
e às realizações harmoniosas. Como assim podemos
perceber em A quarta cruz.
Mas não se pense que o livro tematiza
tão somente questões esotéricas ou religiosas.
Na verdade, elas aqui se encontram transfiguradas no plano individual
e mesmo no biográfico. Por isso mesmo, o autor pode dizer
que “o poema, agora,/se presta ao presente,/ao surdo bater
do relógio do espaço.//A casa está limpa. Impregnada/de
corpos e nomes”.
A originalidade do poeta se revela, entre outras
coisas, na transposição de alguns símbolos
ou passagens da narrativa cristã, de forma literariamente
superlativa, para o plano da imanência do dia a dia e das
aspirações do corpo (“A sede deste encanto não
sacia,/pois feito o pão do amor também é sal”).
Sob o item originalidade,aliás, chamo a atenção
do leitor para alguns poemas (“A curva”, “Meu
filho sou eu”, “Canção”, “O
encontro”, p. ex.) e versos (“A morte que em tudo principia”,
“A noite enrijece seus membros, esfria seus muros,/bebe os
escuros do próprio luto” etc.) de incomum fatura.
Se episódios bíblicos aconteceram
em tempos remotos e deram ao homem uma meta de ascensão espiritual
no céu superior, Weydson Barros Leal soube redimensioná-los
no chão humano e urbano (Recife/Rio) do presente, voltados
para o drama existencial-amoroso do sujeito lírico, em estado
de tensão insolúvel. Deste modo, o autor reafirma
a experiência da vida e da poesia modernas como uma aventura,
ao mesmo tempo dissonante e fascinante.
|